Roberto Mangabeira Unger, ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, tem um projeto para a Amazônia. Aliás, é a primeira vez que o blogger toma conhecimento de uma proposta da magnitude esboçada pelo polêmico professor vitalício da Universidade de Harvard, que será detalhada na próxima quarta-feira, 15, ao senadores, na Subcomissão Permanente da Amazônia.
Denominado “Projeto Amazônia”, a proposta tem a finalidade de fazer do soerguimento da Amazônia prioridade brasileira na primeira metade deste século, de acordo com o ministro.
Repassada cordialmente pelo jornalista Val-André Mutran, a íntegra do texto da proposta do ministro – bastante extensa para os padrões do blog, mas mesmo assim – publicamos a seguir, com objetivo exclusivo de processar amplo debate em torno de seu conteúdo.
A tarefa
Essa é uma proposta para fazer do soerguimento da Amazônia prioridade brasileira na primeira metade do século 21. Transformando a Amazônia, o Brasil se transformará. Aqui esboço, a título provisório e para provocar discussão, possíveis diretrizes dessa proposta. Apresento visão dos problemas e das oportunidades com que se defronta o país hoje na Amazônia. E sugiro, a partir dessa análise, algumas grandes linhas de estratégias específicas para as diferentes partes da Amazônia.
A premissa da proposta é que na Amazônia o Brasil se pode revelar ao Brasil. O bioma amazônico representa pelo menos um terço de nosso território nacional. Atrai a atenção do mundo todo, por ser de longe a maior selva úmida do planeta; por estar ligada, como vítima e como solução, ao debate mundial a respeito de mudança de clima; por ser a maior reserva de biodiversidade do planeta e por conter cerca de 20% da água doce da Terra.
Hoje a discussão do destino da Amazônia serve como alavanca de pressão do mundo sobre o Brasil. Pode, porém, servir para abrir espaço para nós no mundo. Para isso, temos de mostrar como, ao reafirmar nossa soberania na Amazônia, podemos fazê-lo a serviço não só do Brasil, mas também da humanidade.
O espírito da empreitada deve ser o de definir a Amazônia como vanguarda, não como retaguarda. As soluções para os problemas da região terão de ser inovadoras; não serão fáceis de extrair do repertório de políticas públicas convencionais nem de situar no espectro das posições ideológicas conhecidas. E podem servir para abrir caminho para toda a nação.
O ponto de partida é enfrentar problema central. Há hoje desnível perigoso entre o fervor do ambientalismo, que toma a Amazônia como tema predileto, e o relativo primitivismo das idéias econômicas disponíveis a respeito da ocupação da Amazônia. No espaço deixado por esse descompasso, proliferam no país duas idéias inadequadas a respeito do futuro da Amazônia.
De acordo com a primeira idéia, a Amazônia deve virar parque para o benefício e o deleite da humanidade. As únicas atividades produtivas a tolerar nela seriam as iniciativas extrativas rudimentares. Dessa regra estaria eximido apenas tudo o que puder ser produzir em cidades rigidamente separadas da selva circundante.
De acordo com a segunda idéia, a Amazônia deve ser dividida entre grandes reservas florestais, fechadas a quase toda a atividade econômica, e áreas, também grandes, em que a floresta cede lugar a atividades produtivas. Atividades que implicam desmatamento, como a pecuária extensiva e o plantio de soja. Não há como ou por que resistir às forças do mercado.
Se o Brasil for obrigado a escolher, na Amazônia, como em qualquer outra de suas grandes regiões, entre desenvolvimento e preservação da natureza, escolherá desenvolvimento. É, porém, escolha inaceitável e desnecessária. Temos condições de construir na Amazônia o que nos países ricos de hoje tanto se fala e quase nunca se pratica: um modelo de desenvolvimento que ao mesmo tempo utilize e preserva a natureza. Para isso, porém, é preciso imaginar e ousar.
O eixo
O eixo da solução necessária é um projeto de zoneamento econômico e ecológico que possibilite a formulação de estratégias econômicas distintas para as diferentes partes da Amazônia. (Desconsideremos, para essa finalidade, as diferenças conceituais entre “zonas” e outras divisões geográficas.) Há muito que se reconhece a importância de tal zoneamento. Em grande parte da Amazônia, ainda não e traduziu o princípio em realidade. É que zoneamento econômico e ecológico não representa exercício de cartografia. Significa tradução espacial de um pensamento econômico. É esse pensamento que tem faltado – na forma e no grau requeridas – à Amazônia e ao Brasil.
Zoneamento econômico e ecológico é simplesmente uma maneira de decidir o que pode – e deve – ser produzido onde. Não se confunde com a pretensão de planejar atividades produtivas determinadas e de designá-las como adequadas ou inadequadas para certas regiões. Estabelece os limites do que pode e não pode ocorrer em cada área zoneada. Daí ser a contrapartida ao zoneamento econômico e ecológico um conjunto de estratégias econômicas – e de idéias institucionais que as acompanhem – para cada um dos territórios classificados pelo zoneamento.
O pressuposto prático mais importante do zoneamento econômico e ecológico é a solução dos problemas fundiários em toda a Amazônia. Há muito pouco que se pode fazer enquanto a titularidade da terra – ou a legitimidade de sua posse – continuarem em dúvida. A partir do eixo representado pelo zoneamento econômico e ecológico, é possível começar a formular um projeto econômico para a Amazônia em duas grandes vertentes: para a Amazônia já desmatada e as grandes cidades (onde se concentra, ainda mais do que em outras regiões do país, a maior parte da população) e para a Amazônia onde a mata permanece em pé.
O primeiro traço é coordenação estratégica entre os governos e a iniciativa privada, sobretudo a iniciativa dos pequenos produtores, livre de qualquer constrangimento de preconceito ideológico. Uma das áreas mais importantes para efetivar essa orientação é a agricultura familiar. Deve ela integrar-se, quando conveniente, com a pecuária intensiva, e apoiar-se num sistema de seguro de renda e de garantia de preço – indispensável à estabilidade da agricultura familiar. É sistema que ainda não conseguimos generalizar no país.
O segundo atributo é o estímulo pelo governo às práticas de “concorrência cooperativa” entre os pequenos produtores: práticas por meio das quais possam esses produtores competir e cooperar ao mesmo tempo e ganhar, por meio da cooperação, acesso a economias de escala. É princípio que se pode aplicar em todos os setores da economia, inclusive a empreendimentos tecnologicamente avançados, como demonstra a experiência de algumas das economias regionais mais vanguardistas da Europa.
O terceiro distintivo é o esforço para estabelecer vínculos diretos entre as vanguardas e as retaguardas da produção. Indústrias de ponta, “pós-Fordistas”, podem produzir, de maneira não padronizada, máquinas e insumos que a retaguarda de empreendimentos menores e mais atrasados consigam usar. O objetivo é pular a etapa do modelo industrial paulista, organizado em meados do século 20 em torno de um “Fordismo” já tardio: a produção em grande escala de bens padronizados, por meio de maquinaria e processos produtivos rígidas, hierarquias e especializações definidas e mão-de-obra semiqualificada.
A idéia é simples e fundamental: aproveitar o espaço da Amazônia já desmatada para fazer diferente do que se fez até agora na organização da economia brasileira.
As duas principais atividades econômicas na Amazônia hoje são a mineração no Pará e a Zona Franca em Manaus.
Ao contrário do que se supõe, a Zona Franca não se compõe em sua maior parte de meras maquiladoras: indústrias que apenas montem passivamente bens cujos componentes são fabricados no estrangeiro. Pelo contrário, a Zona Franca serve de palco para espectro amplo de experimentos industriais, que combinam, em graus variados, fabricação vertical, montagem e inovação. Lá se encontra muito de industrialmente primitivo ao lado de bastante de industrial avançado.
Todas as características do modelo econômico alternativo enumeradas anteriormente lá teriam a melhor oportunidade para desenvolver-se. Os governos da União e do Amazonas já estão engajados, por meio do próprio estabelecimento da Zona Franca, dos incentivos que a possibilitam e de políticas que incentivam a substituição das atividades de montagem por atividades de transformação. As práticas de “concorrência cooperativa” se desenvolveriam com naturalidade e com proveito no ambiente de um parque industrial. Falta ainda construir e estreitar vínculos diretos, na Zona Franca, entre empresas mais e menos avançadas dentro das mesmas cadeias produtivas.
A questão central é se a Zona Franca deve ser entendida apenas como entreposto dependente do favor fiscal e montador de produtos padronizados ou se deve ser compreendida, também e, sobretudo, como laboratório de práticas e de empreendimentos inovadores. Como laboratório, estaria livre de alguns dos entraves que a produção enfrenta Brasil afora. E poderia acalentar empreendimentos de significado exemplar.
Parece razoável supor que a Zona Franca não é intrinsecamente nem a primeira nem a segunda dessas realidades. O interesse da Amazônia e do Brasil, porém, é assegurar que a segunda realidade prevaleça sobre a primeira. E formar os quadros que ela exige. Se prevalecer a 4 segunda realidade, o enclave representado pela Zona Franca em Manaus deve ser reproduzido, em moldes semelhantes ainda que em escala menor, em outras cidades da Amazônia.
Na maior parte da Amazônia – a Amazônia com mata – o objetivo deve ser organizar o manejo controlado e sustentável da floresta. Manejo que use a floresta, mas que também a preserve, por meio de uso escalonado ou rotativo e por replantio constante das árvores. Há imenso potencial. É baixa a eficiência de nossa indústria florestal quando comparada com a das grandes nações de florestas temperadas. As causas dessa situação não estão na natureza; estão em nossas limitações tecnológicas, econômicas e institucionais.
O manejo controlado e sustentável da floresta tem pressuposto nacional e pressuposto internacional. O pressuposto nacional é que os regimes tributário e regulatório façam a floresta em pé valer mais do que a floresta derrubada. Enquanto valer mais derrubada, derrubada será. Tanto o regime tributário quanto o marco regulatório devem tratar com dois pesos e com duas medidas as atividades econômicas que depredam a floresta e as que a preservam.
O pressuposto internacional é que saibamos aproveitar ou construir os instrumentos para assegurar que o mundo arque com parte dos custos de benefícios que aproveitarão toda a humanidade mas que, na falta de tais instrumentos, só nós teríamos de custear. Trata-se de fazer compartilhar aquilo que os economistas chamam “externalidades positivas”.
Já existe ao menos um mecanismo – o do dos “créditos de carbono” – estabelecido pelo Tratado de Kyoto. Faltam, de nossa parte, as medidas necessárias para credenciar nossa selva úmida aos benefícios ali previstos. Não há, porém, por que nos atermos a essa única fórmula. Há outras maneiras — inclusive por acertos bilaterais — para conseguir participação estrangeira no financiamento, mesmo a fundo perdida, de iniciativas preservacionistas nossas. Iniciativas que são reivindicadas hoje por muitos governos estrangeiros e organismos internacionais.
Atendidos esses pressupostos – o nacional e internacional –, há três grandes problemas a resolver para que se possa organizar na Amazônia brasileira o manejo controlado e sustentável da floresta: o primeiro, tecnológico; o segundo, técnico; o terceiro, institucional.
O problema tecnológico é a falta de instrumental adequado para o aproveitamento de florestal com as características da nossa. A tecnologia à disposição no mundo para o aproveitamento florestal evoluiu para trabalhar com as florestas temperadas – muito menos ricas e muito mais homogêneas do a nossa.
Disponível no mundo está uma tecnologia que se adéqua às florestas da Finlândia muito mais do que às florestas do Brasil.
Não convém aguardar que o mercado mundial providencie, em algum momento longínquo do futuro, a necessária resposta tecnológica. Tratemos nós de fazer fabricar o de que precisamos. Pode ser por acerto do governo, via BNDES, com grandes empresas privadas brasileiras do setor de bens de capital. Ou pode ser por ação direta do governo. Pode o governo fundar e capitalizar, no regime de mercado, sem monopólio ou oligopólio e com gestão profissional independente, empreendimento destinado a inventar e a fabricar a tecnologia melhor para nós.
Poderia logo que possível ser vendido a investidores privados, mas sempre por preço de mercado ou em troca de participação acionária nos empreendimentos privados subseqüentes, como faria um “venture capitalist”.
Trata-se, portanto, de verdadeiro extensionismo tecnológico. Como tal, precisa ser organizado como responsabilidade do serviço público federal, a partir do Serviço Florestal, em colaboração com os governos do estados e dos municípios da Amazônia. Teremos de formular critérios para distinguir os serviços florestais que os agentes privados devem remunerar dos serviços florestais que se devem prestar gratuitamente.
A verdadeira dificuldade na solução desse problema técnico nada tem de técnico. Reside em dificuldade de âmbito maior, que guarda relação com outros aspectos desse projeto Amazônia, sobretudo com o lançamento das atividades produtivas experimentais e vanguardistas, aventadas adiante nesse texto. Para que se possam disponibilizar, na dimensão necessária, serviços ambientais, é preciso que quadros altamente qualificados se disponham a morar fora de grandes cidades. Em todo o mundo, pessoas de qualificação elevada querem morar em centros urbanos. Uma das razões mais importantes é que só em cidades, sobretudo em grandes cidades, é que se prestam serviços de alta qualidade.
Ninguém no mundo descobriu como prestar serviços de alta qualidade a população rarefeita distribuída ao largo de vasto território. Esse é, entretanto, apenas um dos muitos resultados a conseguir para que se possa inaugurar na Amazônia o manejo controlado e sustentável da floresta. O problema institucional (e jurídico) é a organização de alternativas aos regimes jurídicos tradicionais de controle público e de propriedade privada. O ponto de partida é entender o que já acontece em outras grandes nações florestais. Em muitas delas desponta, como regime jurídico incipiente para o manejo controlado e sustentável das florestas, a gestão comunitária. O Estado continua a deter a titularidade de última instância. Transfere, porém, a posse e o usufruto para comunidades organizadas.
Seria esse um modelo de produção marcado pelos mesmos traços do modelo econômico que antes advoguei para a Amazônia sem mata: coordenação estratégica entre o poder público e a iniciativa privada, concorrência cooperativa entre os pequenos produtores e vínculo direto entre as vanguardas e as retaguardas da produção – aquelas a produzir máquinas e insumos que estas consigam usar. A gestão comunitária coexistiria com a atuação de grandes empresas madeireiras, tipicamente trabalhando por meio de concessões duradouras de florestas que continuariam sob o domínio do Estado.
Ocorre que a gestão comunitária continua, em todo o mundo, a ser realidade nascente sem ordenamento jurídico. Ainda não se cristalizou em regime jurídico de propriedade social, distinta das formas tradicionais de propriedade privada e de propriedade pública. Essa falta de articulação jurídica não representa apenas problema; constitui também oportunidade. A democratização da economia de mercado exige a multiplicação de formas alternativas de propriedade privada e social, que passariam a coexistir experimentalmente dentro da mesma economia de mercado. A organização jurídica da gestão comunitária das florestas na Amazônia pode servir como primeiro passo.
Não se viabilizará sem ajuda do Estado – técnica e financeira. Daí, mais uma vez, a necessidade de organizar coordenação estratégica descentralizada entre o poder público e a iniciativa privada, estimular as práticas de concorrência cooperativa entre os pequenos produtores (agentes presuntivos da gestão comunitária das florestas) e provocar a vinculação direta das vanguardas e retaguardas da indústria floresta: empresas que produzam a tecnologia nova, apropriada ao cultivo das florestas tropicais. E que as disponibilizem aos empreendimentos emergentes da gestão comunitária.
Ao mesmo tempo em que organizarmos para já o manejo controlado e sustentável da floresta, precisamos abrir caminho para o futuro. Na maneira de coordenar as iniciativas de agora com as possibilidades do futuro, devemos fazer o que faria qualquer grande empresa interessada em inovar. Construir ao lado do negócio estabelecido uma periferia de empreendimentos experimentais. Com isso, revelam-se, experimentalmente, novas oportunidades produtivas sem que se tenha de pôr em risco o negócio constituído.
Há duas atividades que se apresentam, da perspectiva de hoje, como candidatas prioritárias a esse papel vanguardista. A primeira atividade é a aproveitamento tecnológico – sobretudo farmacológico – da biodiversidade. A selva úmida constitui laboratório natural: vasta cadeia de variantes e de analogias químicas, cujo potencial quer para aproveitar-se diretamente, quer para pautar a invenção de equivalentes sintéticas, permanece quase inteiramente desconhecido.
A mobilização desse potencial exige em alto grau aquilo que nossa indústria principiante de fármacos e de medicamentos ainda não se preparou para fazer: pesquisa radical. Por isso mesmo, é provável que essa atividade não avançará em qualquer futuro próximo sem presença forte do Estado.
A segunda atividade é a mobilização do potencial energético latente nas árvores – na celulose e na lignina. Está ainda longe de ser economicamente eficiente a mobilização, por hidrólise, desse potencial. A tese de alguns é que, em algum momento do futuro próximo, será eficiente, ao menos se investirmos no desenvolvimento da tecnologia necessária. O resultado seria transformar toda a Amazônia com selva em vasto manancial de energia renovável. De acordo com a lógica do uso controlado e sustentável da floresta, a utilização rotativa das árvores seria sempre compensada por replantio equivalente.
Segundo essa tese, o lugar da madeira na história da humanidade é conto em quatro capítulos; o quarto ainda não foi escrito. O primeiro capítulo foi a madeira como fonte de energia – fogo. O segundo capítulo foi a madeira como material de construção – prédios, navios e móveis. O terceiro capítulo é a madeira como fibra – papel e celulose. O quarto capítulo – ainda não escrito – é o da volta ao papel da madeira como fonte de energia.
Diante das possibilidades oferecidas por essas duas atividades de vanguarda, ou por outras igualmente desbravadoras, devemos precaver-nos contra qualquer dogmatismo, seja otimista ou pessimista. Não somos nós que podemos escolher “os setores portadores de futuro”.
Quem os escolhe é o futuro. O objetivo prioritário não deve ser fazer com que o governo federal e os governos locais apostem em algumas possibilidades contra outras. Deve ser organizar processos, práticas e instituições que encarnem o impulso experimentalista. O importante é que tais arranjos não se deixem atrelar a curto-prazismo mercantil incompatível com a natureza inovadora de tais empreitadas.
Há ponte natural entre o manejo controlado e sustentável da floresta e atividades produtivas de vanguarda como as consideradas aqui: a prestação dos serviços ambientais, que tanto aquele como estas exigem. E que demandam a solução anterior de problemas como o dos atrativos que se possa oferecer a quadros qualificados dispostos a morar e a trabalhar longe de grandes cidades.
Um conjunto de problemas correlatos
Trato sumariamente de cada um desses temas para marcar-lhe o lugar dentro da iniciativa maior.
Na Amazônia precisamos inovar no modelo brasileiro de transporte. Aqui, como em outras partes desse projeto, a inovação local poderá ter valor exemplar para a nação. Nossa tradição de transporte confia tudo à rodovia, a menos eficiente das vias logísticas e pouco ou nada à ferrovia ou à hidrovia. (Regra geral no mundo – altamente variável de acordo com circunstâncias geográficas, demográficas e econômicas) é ser hidrovia duas vezes mais eficiente do que ferrovia e ferrovia duas vezes mais eficiente do que rodovia.
Hoje a primeira prioridade da agricultura brasileira é o escoamento dos grãos do centrooeste, especialmente seu escoamento pelo norte para o porto de Itaqui no Maranhão. Exportar a soja do Mato Grosso de Itaqui, em vez de exportá-la de Santos, significa, por exemplo, economizar cinco dias de caminho para Roterdã – ou, pelo canal de Panamá, para Xangai. Em princípio, a melhor solução é combinação de rodovia, hidrovia (Rio Madeira e afluentes) e ferrovia. E o que se aplica ao traslado do produto do centro-oeste aplica-se também à solução dos problemas logísticos internos da Amazônia. O novo modelo de transporte multimodal na Amazônia serviria de cunha para começar a mudar o paradigma de transporte em todo o país.
A instabilidade das águas da Amazônia limita a viabilidade das hidrovias, mas não a elimina. (A ferrovia, além de não sofrer dessa instabilidade, é superior à rodovia, não só em eficiência de custo mas também em limitação de impacto ambiental, sobretudo quando cercada de margens de reserva). Essa instabilidade das bacias hidrográficas é mais uma razão para insistir em rede de vias complementares, com de duplicação de formas de acesso, para efeitos de segurança. E a necessidade de ampliar as formas de acesso ao Pacífico e ao Caribe abre oportunidade para aprofundar a dimensão sul-americana de nossa proposta para a Amazônia.
A base da matriz energética da Amazônia – pelo menos até que se consolidem alternativas, como a mobilização da energia latente nas árvores – é a combinação de hidroeletricidade, como elemento principal, e gás natural, importado de Estados fronteiriços (sobretudo a Bolívia) como elemento acessório.
Seria contra-senso que uma das regiões de maior potencial hidrelétrico do mundo se privasse de desenvolvê-lo. Nem a dificuldade técnica apresentada pelo pouco declive dos rios, nem o risco real de prejuízo ao meio-ambiente são razões para parar. São, sim, razões para inovar em tecnologias e técnicas que enfrentem aquela dificuldade e que mitiguem este risco. Não existe energia mais limpa ou mais renovável do que hidroeletricidade.
É verdade que os dois problemas se agravam reciprocamente. O baixo declive dos rios fortalece a razão para aumentar as áreas de inundação, o que, por sua vez, agrava o prejuízo ambiental. Parte da solução está em construir barragens (com eclusas) menores e mais numerosas, com as novas tecnologias que facilitam esse estilo de construção. E outra parte da solução está em entender que as barragens podem atuar como palcos para experimentar novas formas de associação produtiva entre o Estado e os pequenos produtores dentro de uma estratégia de desenvolvimento local. Não são apenas obras de engenharia; são projetos sociais. Foi assim que funcionaram em meados do século 20 (nos Estados Unidos, por exemplo). E é assim que devem funcionar agora entre nós.
O bioma Amazônico está ao lado do semi-árido nordestino. Numa região, sobra água, inutilmente. Na outra região, falta água, calamitosamente. O ingênuo indagará: por que não transportar de onde tem para onde falta? E o técnico responderá: porque não há como transportar a preço que alguém se disponha a pagar. A razão, porém, acabará por assistir ao ingênuo, não ao técnico. O custo do transporte de água é relativo às tecnologias disponíveis para transportá-la. Representa problema análogo à falta de tecnologia apropriada ao aproveitamento das nossas flor estas heterogêneas. As tecnologias de irrigação desenvolvidas no mundo nunca tiveram de cumprir tarefa de dimensão semelhante; novas maneiras de conceber e de construir aquedutos seriam necessárias para executá-la. Não há porque tomar como dado e invariável o horizonte das tecnologias existentes. Temos de estender esse horizonte: novamente, num primeiro momento, por iniciativas públicas no financiamento e na organização das inovações tecnológicas necessárias.
A água transportada deve ter não só custo, mas também preço. E o preço deve ser pago não só aos investidores públicos e privados, mas também aos Estados detentores do ativo físico.
A mineração que se faz hoje na Amazônia, sobretudo no sul do Pará, é uma das principais atividades econômicas da região. Pouco proveito traz, porém, à população amazônica. Tem valor substancial a seguinte simplificação: leva-se o metal para fora e deixa-se o buraco da terra. Empregos, poucos. Dinheiro, longe.
A resposta a essa situação inaceitável e desnecessária é dupla. A primeira parte da resposta é tributar a lavra. E destinar a receita aos Estados para financiar diferentes aspectos desse projeto Amazônia. Há várias fórmulas a considerar. Uma fórmula é imposto geral, como seria o IVA, porém calculado para incidir com sobretaxa de alíquota sobre a lavra que não seja seguida por agregação local de valor.
Outra fórmula seria imposto sobre a exportação de minerais (novamente com alíquota mais alto quando os metais lavrados não sejam transformados dentro da Amazônia). Tal imposto ganharia mais legitimidade se fizer parte, como propõem alguns, de imposto geral de exportação sobre “commodities”. Com alíquota modesta, o impacto sobre a competitividade de nosso produto mineral seria modesto. A justificativa econômica é que não só temos razões para estimular a agregação de valor e a formação local de cadeias produtivas como também temos razões para resistir a nossa dependência crescente da exportação de commodities” (“doença holandesa”).
Finalmente, podemos admitir a possibilidade de um imposto que incida diretamente sobre a lavra. E que encontre sua justificativa maior no imperativo de tratar o custo de financiar atividades econômicas alternativas como parte legítima do “cost of doing business”. Ao menos quando se trata de um recurso ao mesmo tempo muito valioso e não renovável como são os minerais.
Como no que diz respeito à tecnologia de aproveitamento da floresta, o Estado pode atuar não suprimir o mercado, mas para radicalizar a lógica do mercado; não para substituir concorrência por monopólio ou oligopólio, mas para aguçar a concorrência; não para contrabalançar mercado com políticas regulatórias e compensatórias, mas para dar mais acesso a mais mercados para mais gente de mais maneiras. Pode, por exemplo, fundar e capitalizar empreendimentos de lavra (o custo seria irrisório em comparação com o custo de isenções fiscais e de créditos subsidiados) dentro do regime de mercado e com gestão profissional independente.
E pode vender o empreendimento logo que possível a agentes privados, ao preço que o mercado suportar, ou manter participação acionária nos empreendimentos privados resultantes. A situação em que hoje talvez mais se justifique essa iniciativa talvez esteja fora do bioma Amazônico ainda que dentro da Amazônia legal. Em Roraima, imensa riqueza mineral dorme sem proveito em terras de indígenas, que não tem, econômica ou legalmente, como tirar proveito dela. O empreendedor – público ou privado – teria de estabelecer relação contratual com os indígenas para lavrar o minério. E o direito brasileiro teria de mudar para permiti-lo.
IndígenasGrande parte da Amazônia está reservada aos indígenas. Destinatários de terras, os indígenas estão, entretanto, desfalcados de instrumentos e de oportunidades. Nega-se a eles os meios para fazer algo com as terras que lhe são reservadas. Sem condições para progredir ou sequer para sustentar-se, ameaçam afundar na desagregação social e moral – no ócio involuntário, no extrativismo desequipado, no alcoolismo e no suicídio. Estranha combinação de generosidade e de crueldade, essa com que os tratamos.
A transformação da Amazônia deve vir acompanhada pela libertação dos indígenas.
Libertá-los não é apenas dar-lhes terras e proibi-los de usá-las. Libertá-los é assegurar-lhes os meios para educar-se (em mais de uma língua e mais de uma cultura), para empreender e para associar-se com os governos e os empresários que lhes possam servir de sócios. O soerguimento dos povos indígenas será um dos indícios mais importantes de êxito na transformação da Amazônia.
Essa dimensão maior não resultará de boas intenções. Não nascerá indutiva e espontaneamente como o mínimo denominador comum de uma série de estratégias nacionais fracas e pontuais. Por todas as razões, somos nós que temos a primeira responsabilidade para provocar a discussão com nossos vizinhos. Só a provocaremos se tivermos, em primeiro lugar, o que propor para nós mesmos. A partir daí é que se pode iniciar dinâmica sul-americana que tenha por conteúdo não apenas os problemas comuns evidentes – de transporte, energia e defesa – mas também e sobretudo o conteúdo de nossas idéias a respeito da ocupação da Amazônia, com e sem mata.
O projeto Amazônia não deve ser apenas a reivindicação dos estados e da sociedade da Amazônia junto ao governo federal e ao país. Se for, será visto, ainda que injustamente, como mais um pedido de mais um “lobby”. E o Brasil quer se ver livre dos “lobbies”. O país não está dividido apenas entre classes e ideologias. Está dividido, também, entre uma minoria organizada e uma maioria – de classe média e de pobres. Rebela-se a maioria contra a confederação de corporativismos que vê dominar o país. É vital que a causa da Amazônia seja, e que pareça, parte da rebelião nacional contra o condomínio corporativista, não como mais um exemplo de sua persistência.
Daí ser essencial que a campanha pela Amazônia conte com militantes e líderes de fora da Amazônia. E que se apresente aos olhos do país, como causa genuinamente nacional: oportunidade para reinventar o Brasil.
Nesse percurso, há dificuldade a enfrentar com clareza. A opinião predominante no Sudeste – da juventude, da classe média ilustrada, da grande mídia impressionada com a temática cara aos países ricos – preferirá versão “light” do projeto: versão que enfatize os compromissos ecológicos e sociais ao tentar também aproveitar e preservar a selva. Mas mostrará desconforto e perplexidade com tudo que soar como prenúncio de reconstrução institucional – na Amazônia e, a partir da Amazônia, no país.
Para essa opinião do Sudeste, as idéias e as iniciativas que caminharem na direção das mudanças de modelo econômico parecerão irrealistas ou perigosas: agenda “heavy”, a ser afastada antes de contaminar a causa. Já outros não acreditarão que a causa possa avançar sem tal mudança de modelo: a reconstrução, não a substituição, da economia de mercado do que sua substituição.
A causa da Amazônia precisa de ambas essas correntes de opinião: a “light” e a “heavy”. Nenhuma das duas se deve sentir manipulada pela outra. As propostas práticas serão, em muitos casos convergentes; as mesmas soluções podem ter justificativas e interpretações diferentes. E quando as propostas e as estratégias divergirem, caberá à opinião nacional e à própria dinâmica do movimento arbitrar a divergência.
Desarmemos os espíritos. E entreguemo-nos a uma causa que, mais do que qualquer outra no Brasil de nossos dias, é capaz de engrandecer o país.






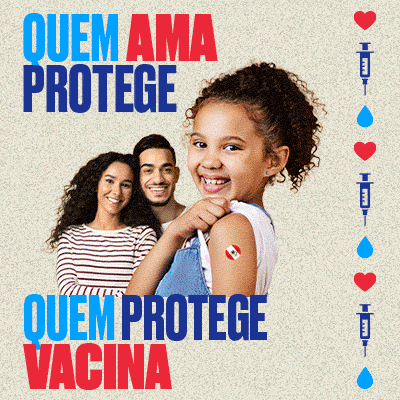
Anonymous
17 de outubro de 2008 - 15:33O esquisito Mangabeira Unger, titular do Ministério de Assuntos Estratégicos, tem uma atração fatal pela polêmica. Suas idéias sobre a Amazônia, na contramão dos movimentos sociais e do que existe de mais progressista na área acadêmica, jogam água no moinho do aprofundamento do modelo devastador. Agora, passa a flertar abertamente com a grilagem de terras públicas. À Folha de São Paulo de hoje ele saiu com essa pérola: “Se quiser vender, deve poder vender, não estamos preparando um modelo agrário soviético nem populista; precisamos confiar no trabalho e no mercado”, ao defender o “direito” do ocupante de áreas da União poder vendê-las após a regularização fundiária de lotes de até 400 hectares.
A polêmica proposta de “rito sumário” está incluída entre as prioridades do Plano Amazônia Sustentável (PAS), sob coordenação de Unger, e pode atingir até 4% da Amazônia Legal – algo em torno de 284 mil posseiros. Dentre estes, é claro, uma boa quantidade de grileiros e desmatadores ilegais, que talvez nem desconfiem que possuam um aliado tão bem situado nos altos escalões do Palácio do Planalto.
Tom Sawyer
14 de outubro de 2008 - 22:50Parece até que a coisa é séria
Anonymous
14 de outubro de 2008 - 14:34Blogueiro;
Como bem disse Bia é preciso ter muitissimo cuidado com a tese e de “reiventar a amazônia”,parece que o ministro em certo grau pretende implantar um modelo de desenvolvimento baseado em antigos projetos que não deram certo,mas no papel eram bem intencionados…Vejo muito entusiasmo e pouco praticidade vamos ficar de Olhos bem abertos…
João Salame
14 de outubro de 2008 - 03:01Hiroshy
Já é um bom começo um ministro colocar a “cara pra bater” e expor suas idéias sobre um tema cercado de tabus no sul do País: a nossa Amazônia.
Pelo menos duas propostas vão produzir boas polêmicas: aumento de impostos sobre a atividade mineral e permitir a exploração econômica (empresarial) em áreas indígenas. Para o bem ou para o mal essas duas teses precisam realmente ser debatidas.
No mais o texto é pródigo em manifestações de boas intenções e pouco avança em questões candentes: quem vai financiar o zoneamento econômico-ecológico? Quanto a União está disposta a financiar para formar cientistas na Amazônia, pois hoje o investimento é próximo de zero? O que fazer para o inepto Incra titular as terras, sem o qual é impossível produzir com seriedade? Falou-se de agricultura familiar, mas o que fazer com a grande produção agropecuária que está tomando conta da Amazônia? Qual a política para ela, já que certamente está longe do presidente Lula voltar aos tempos dos bolcheviques e simplesmente estatizá-las? E por último, e o mais importante, como a sociedade amazônica vai participar desse debate?
São questionamentos que mostram grandes lacunas no texto proposto pelo professor Mangabeira Unger, o que não deve ser motivo para desmerecer sua iniciativa. Por último, o professor está com força no governo pra tocar empreitada de tão elevada monta?
Vamos aguardar, ansiosos por participar.
Atenciosamente
João Salame
www.ribamarribeirojunior.blogspot.com
13 de outubro de 2008 - 14:34O grande problema é que ele (ministro) não conhece a Amazônia, o que difilcuta e muito um projeto que vença os obstáculos dos conflitos existentes.
Bia
13 de outubro de 2008 - 11:39Caro Hiroshi,
comecei a ler a proposta do meu ex-guru aqui no blog. Mas, ao dar de cara (ou “de olhos”) na expressão “reinventar a Amazônia”, resolvi não me precipitar. Copiei, colei no word, salvei, e vou ler com calma. Muita calma.
Porque reinventar, cá pra nós, é um péssimo começo. Nós já estamos inventados. Para o bem e para o mal. E, quando alguém propõe nos “reinventar”, temo que é preciso muito cuidado.
Vou ler com atenção. E isenção. Afinal, ex-gurú já é, também, um mau começo. Volto depois..rsrsrs…
Abração.
Anonymous
13 de outubro de 2008 - 01:58As únicas ideias que o PT põe em prática, são as tipificadas no Código Penal, a exemplo: art. 155, art.157, art. 171, art.288…
Viva o PT, salve o dinheiro que o PT-PA deu ao Aeroclude; o dinheiro dado ao Banco do Povo… Viva o mensalão… Salve Dantas e Lulinha !!!
Isso é Brasil !!!
Anonymous
12 de outubro de 2008 - 16:41Bogueiro.
Classificaria a proposta do ministro como moderna, complexa, extensa e polêmica para atual configuração territorial da amazônia, inclusive no tocante a área desmatada, que predominantemente permanece o latifundio e os conflitos pela posse da terra.Nesse sentido existem interesses politicos envolvidos inclusive ligados a grupos empresariais donos de grandes áreas de terra .Por outro lado a questão exploração mineral,nesse caso, a tributação da lavra como tambem a cobrança de imposto mais altos que não sejam transfomado na amazonia, podem parecer uma saída para questão do crescimento econômico da amazonia, no entanto essa medida dependerá muito da questão demanda e oferta do minério de ferro amplamente explorado no suldeste do Pará, mas discursão será muito boa.Não acredito na possibilidade de construção de hidroelétricas em patamares assim citadas pelo ministro ou transporte de água para semi-árido nordestino, pois experiências recentes não deram muito certo que se diga a transposição do “velho chico”, sem falar nos custo imensuravel para os cofres públicos. Bem em resumo não quero ser pessimista espero participar dessas discursões não podemos mesmo é ficar inertes parabens ao ministro pela iniciativa já é um bom começo…
Val-André Mutran
12 de outubro de 2008 - 10:48Caro Hiroshi, veja a oportunidade que se apresenta para as comunidades, a iniciativa privada e os governos e a estrutura de pesquisa científica e tecnológica proposto pelo ministro.
Essa proposta tem que chegar a maior quantidade possível de cabeças em toda a Amazônia e no restante do país.
A relização de Seminário, Congressos e eventos de pequeno e grande porte para discutir essa proposta urge. O debate nacional seria precioso.
Pudera o presidente Lula ser tão ou mais entusiasmado com as obras do PAC do que com esse projeto de Amazônia. É apenas uma questão de vontade política e parabéns por abrir esse fundamental debate no teu blog.
Um bom Círio para todos ai.