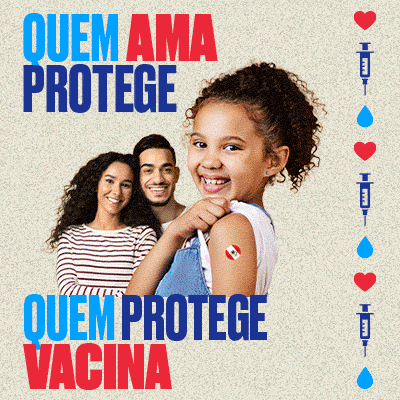Soube ontem que o rapaz da improvisada banca de jornais na esquina oposta à da calçada da minha casa havia morrido atropelado.
Eu sentira sua falta nas duas últimas semanas. Era para ele que eu dava geralmente meu quarto bom dia, ao sair de casa. O primeiro é para o filho que sai para o trabalho cedo, o segundo para a dona do bar onde compro meus cigarros, o terceiro para os taxistas da esquina e o quarto, se não encontrasse antes um vizinho, era para ele, que me cumprimentava cordialmente quando eu chegava ao ponto de ônibus. Pensei que sua ausência significasse ter encontrado um ponto melhor para a sua improvisada banca ou uns dias de merecido descanso.
Nunca soube seu nome, nem se tinha mulher, filhos, amigos ou onde morava. Não éramos amigos. Sequer “conhecidos”, mas sua morte me entristeceu. Seu habitual bom dia compunha meu cotidiano.
Neste último quartil de vida onde estou os nascimentos são profícuos: nascem os filhos dos amigos mais jovens e os netos dos amigos da minha idade. Mas, contra a minha vontade, as mortes têm sido recorrentes. Não me refiro agora à do rapaz dos jornais, mas à morte de amigos nos últimos três anos. A “lei natural da vida” começa a fazer-se presente demais. Preferia que ela, como muitas leis não cumpridas, falhasse mais, muito mais.
A cada perda, sempre muito dolorida, passei a rezar noites seguidas – depois que a raiva passa – a oração da serenidade, aprendida nas reuniões dos narcóticos anônimos, para onde retorno cada vez que a humildade se sobrepõe à arrogância e me convenço – pena que às vezes me “desconvença” – da impossibilidade de decidir pelo outro.
Ontem eu não esperei anoitecer. Rezei no ônibus. Pelo rapaz dos jornais e pela minha raiva. E vou transcrever a pequena oração – ou mantra, se preferirem – para quem dela precisar, assim como deixo às vezes músicas e poesias para quem delas precisa, por deleite ou convicção.
Concedei-me serenidade para aceitar o que não posso modificar,
coragem para modificar o que posso
e sabedoria para perceber a diferença