Samoel foi a melhor pessoa que conheci. (Ele escrevia Samuel, mas assim como digo fica mais terno.) Conheci-o no Colégio Moderno, em Belém, onde estudei por cinco anos seguidos.
Nessa ternura se banhou Arlete. Que passou, daí por diante, a banhar-se com sais perfumosos, a vestir-se nas lojas finas, a comer nos restaurantes de luxo.
Nem nas boates a bondade de Samoel se ajeitava menos. Percorreu-as todas, puxado pelas mãos ávidas e insaciáveis de Arlete.
Foi feito por Samoel, o circuito da futilidade elegante, e nem um minuto sua ternura se sentiu deslocada. Com o sorriso e as ocultas asas abria as portas mais difíceis. Liquidou com a lenda da porta estreita. Passou por todas. Perdoavam-lhe até que as transpusesse levando Arlete.
Mas também o dinheiro das criaturas angelicais acaba. Acabou-se o de Samoel.
Imediatamente, a lenda voltou a vigorar. Foram-se estreitando as portas, terminaram por fechar-se, às vezes em sua cara e com violência.
Quando viu Samoel, terno como sempre, bondoso mais que nunca, de novo sentado ao meio-dia de sábado num botequim da Cidade Velha, Arlete retomou suas asas e voou, em companhia de Ivaldinho, que se brevetara havia pouco.
As asas de Arlete, inútil esclarecer, eram de borboletas, embora ela pedisse, aos mais íntimos, em categoria de favor especial, que não a mencionasse como mariposa.
Samoel passou a sofrer, sofreu com intensidade jamais experimentada por qualquer de nós, e nós a cada passo perdemos a nossa Arlete, nossas borboletas, nossos sonhos amados.
O que Samoel não perdeu foi a bondade, foi a ternura. Sofreu fundo e desgraçado, mas com ternura, com bondade. Não perdeu também o sorriso. Deste, conforme o declarou às autoridades competentes, durante o inquérito, jamais se esqueceria o garçom que lhe serviu o guaraná, ao qual adicionou violento tóxico, ganhando, em conseqüência, nos jornais do dia seguinte, o título de tresloucado. Esse sorriso haveria de perseguir o garçom através das horas e dias e semanas e meses, até que também ele, em desespero de causa e privação de sentidos, embreou-se com Samoel na generosa distribuição de títulos nos jornais. (Disso, Samoel nunca soube. O fato seria capaz de lhe abalar a ternura e mesmo de lhe empanar o brilho manso do sorriso.)
Depois de um longo tempo que para ele não houve, com tudo branco em redor, paredes, roupas, caras, Samoel se sentiu suspenso no ar.
Olhando pelo rasgão dourado da janela, compreendeu. Lá fora, o Irmão Sol esplendia. Não o quente e abafado da Cidade Velha, mas o de uma primavera sem fim e nem começo. Era o reinicio do mundo, a promessa de outros encontros, de outras probabilidades e possibilidades de sorrir para a vida e para as primas-donas.
Foi quando o anjo apareceu. Voava lá fora, fazia piruetas graciosas no ar, nada de loopings secos e brutos, tudo em harmonia e ritmo. Não surpreendeu a Samoel que aquele fosse exatamente como os dos quadros renascentistas e das estampas coloridas que o vigário lhe dava na infância.
Acompanhando, pela janela, as evoluções do anjo, Samoel não percebeu o par de asas que, sub-reptício, ia crescendo em suas próprias costas. Quando deu por si, estava branco, diáfano, difuso, tinha um rosto suavemente triste e violentamente luminoso. O corpo era mais leve que o ar, as mãos servindo de âncoras no rebordo da cama.
Sua ternura e sua bondade mudaram de tom, desligaram-se da terra, do peso da terra, da sujidade da terra. Sorriu, e sorriu luz, o que em absoluto o espantou.
Caminhou então, deslizou ate a janela. Galgou, sem o mínimo esforço, a sacada. Sentia-se, sobre ela, como balão que se vai inflando de gás, prestes a largar no rumo do infinito.
Apesar de todas as transformações, não pôde deixar de surpreender-se um pouco, o que o fez ficar parado no ar, como um helicóptero sem motor, domando leis físicas que então conheceu irreais e enganosas, em prejuízo dos compêndios lidos no ginásio. Entendeu enfim – e aí foi um novo-riquíssimo angélico.
Samoel dançando no ar, em ritmos redondos e sutis, rabiscando rondós no espaço, desenhando geometrias inventadas na hora, de harmonia absoluta, mensuráveis por metros que não eram deste mundo.
Seguro de si, experimentou várias direções, voltou ao ponto inicial, avançou, volveu, desceu, subiu. Manobrava com uma perícia que lhe parecia adquirida antes dos séculos. Como que nascera apto para todos os movimentos, todas as tênues acrobacias.
Tomou, levado por uma súbita inspiração, o rumo da Cidade Velha, saindo da Pedreiras, bairro de sua última morada.
Antes, apreciou do alto o Ver-o-Peso, onde invariavelmente terminávamos a madrugada tomando caldo na baiúca de Dona Glória, sobrevoou o Porto do Sal e seus pecados, isento deles, puro lá em cima, enquanto o pó, o sangue, o suor e o esperma campeavam aqui em baixo.
Medroso de ver tocada a fímbria de sua túnica pelos eflúvios que subiam do bairro, arrancou, célere, em direção às nuvens, aos astros, às constelações, ao céu que havia por trás das constelações, por trás do céu.
De repente, no entanto, paralisado pelo pasmo e pelo terror, viu que alguma coisa – o quê? – não funcionava mais. Caiu, numa vertical não ortodoxa, direto sobre o negrume do asfalto. Durante o trajeto, por indiscritivelmente rápido que este fosse, teve tempo de arrepender-se da bondade e da ternura e também renegar o sorriso, o velho companheiro de sempre.
Em seguida, esborrachou-se, balofamente sólido, de encontro ao solo – massa sanguinolenta e ainda palpitante.
Por mera coincidência, passava, naquele momento, o último ônibus para a Cidade Velha.






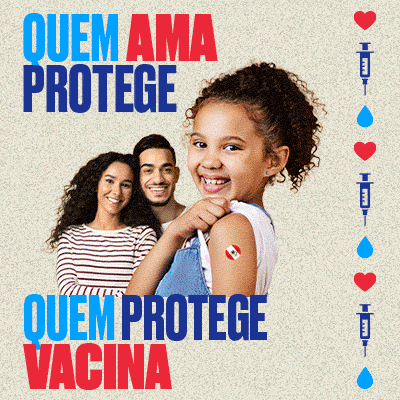
Juvencio de Arruda
21 de dezembro de 2008 - 23:48Tocante. Parabéns, mestre.